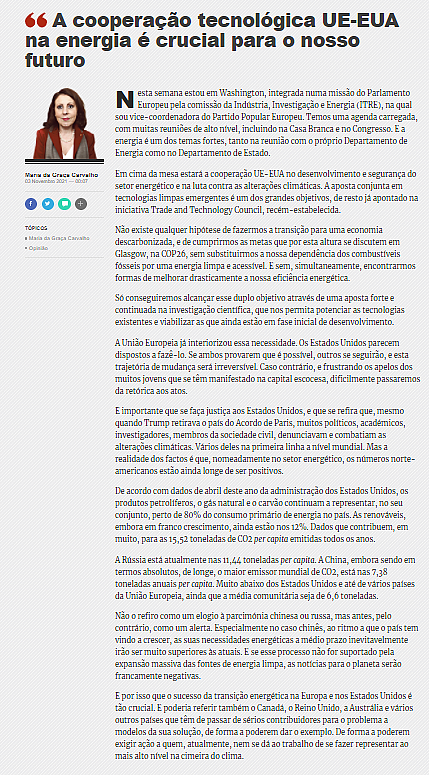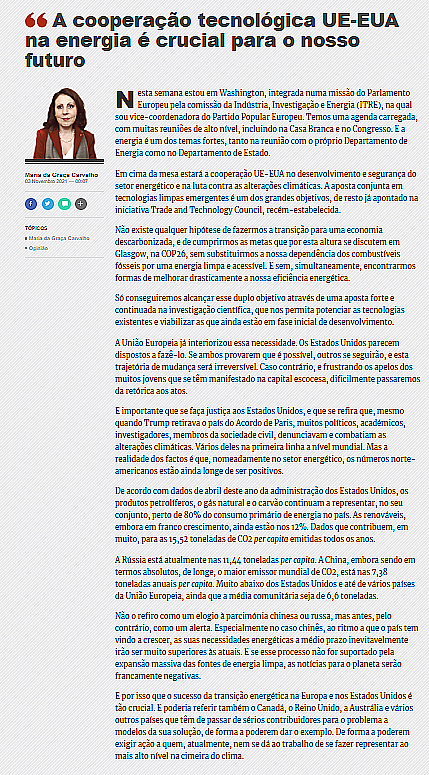Press A cooperação tecnológica UE-EUA na energia é crucial para o nosso futuro
Nesta semana estou em Washington, integrada numa missão do Parlamento Europeu pela comissão da Indústria, Investigação e Energia (ITRE), na qual sou vice-coordenadora do Partido Popular Europeu. Temos uma agenda carregada, com muitas reuniões de alto nível, incluindo na Casa Branca e no Congresso. E a energia é um dos temas fortes, tanto na reunião com o próprio Departamento de Energia como no Departamento de Estado.
Em cima da mesa estará a cooperação UE-EUA no desenvolvimento e segurança do setor energético e na luta contra as alterações climáticas. A aposta conjunta em tecnologias limpas emergentes é um dos grandes objetivos, de resto já apontado na iniciativa Trade and Technology Council, recém-estabelecida.
Não existe qualquer hipótese de fazermos a transição para uma economia descarbonizada, e de cumprirmos as metas que por esta altura se discutem em Glasgow, na COP26, sem substituirmos a nossa dependência dos combustíveis fósseis por uma energia limpa e acessível. E sem, simultaneamente, encontrarmos formas de melhorar drasticamente a nossa eficiência energética.
Só conseguiremos alcançar esse duplo objetivo através de uma aposta forte e continuada na investigação científica, que nos permita potenciar as tecnologias existentes e viabilizar as que ainda estão em fase inicial de desenvolvimento.
A União Europeia já interiorizou essa necessidade. Os Estados Unidos parecem dispostos a fazê-lo. Se ambos provarem que é possível, outros se seguirão, e esta trajetória de mudança será irreversível. Caso contrário, e frustrando os apelos dos muitos jovens que se têm manifestado na capital escocesa, dificilmente passaremos da retórica aos atos.
É importante que se faça justiça aos Estados Unidos, e que se refira que, mesmo quando Trump retirava o país do Acordo de Paris, muitos políticos, académicos, investigadores, membros da sociedade civil, denunciavam e combatiam as alterações climáticas. Vários deles na primeira linha a nível mundial. Mas a realidade dos factos é que, nomeadamente no setor energético, os números norte-americanos estão ainda longe de ser positivos.
De acordo com dados de abril deste ano da administração dos Estados Unidos, os produtos petrolíferos, o gás natural e o carvão continuam a representar, no seu conjunto, perto de 80% do consumo primário de energia no país. As renováveis, embora em franco crescimento, ainda estão nos 12%. Dados que contribuem, em muito, para as 15,52 toneladas de CO2 per capita emitidas todos os anos.
A Rússia está atualmente nas 11,44 toneladas per capita. A China, embora sendo em termos absolutos, de longe, o maior emissor mundial de CO2, está nas 7,38 toneladas anuais per capita. Muito abaixo dos Estados Unidos e até de vários países da União Europeia, ainda que a média comunitária seja de 6,6 toneladas.
Não o refiro como um elogio à parcimónia chinesa ou russa, mas antes, pelo contrário, como um alerta. Especialmente no caso chinês, ao ritmo a que o país tem vindo a crescer, as suas necessidades energéticas a médio prazo inevitavelmente irão ser muito superiores às atuais. E se esse processo não for suportado pela expansão massiva das fontes de energia limpa, as notícias para o planeta serão francamente negativas.
É por isso que o sucesso da transição energética na Europa e nos Estados Unidos é tão crucial. E poderia referir também o Canadá, o Reino Unido, a Austrália e vários outros países que têm de passar de sérios contribuidores para o problema a modelos da sua solução, de forma a poderem dar o exemplo. De forma a poderem exigir ação a quem, atualmente, nem se dá ao trabalho de se fazer representar ao mais alto nível na cimeira do clima.